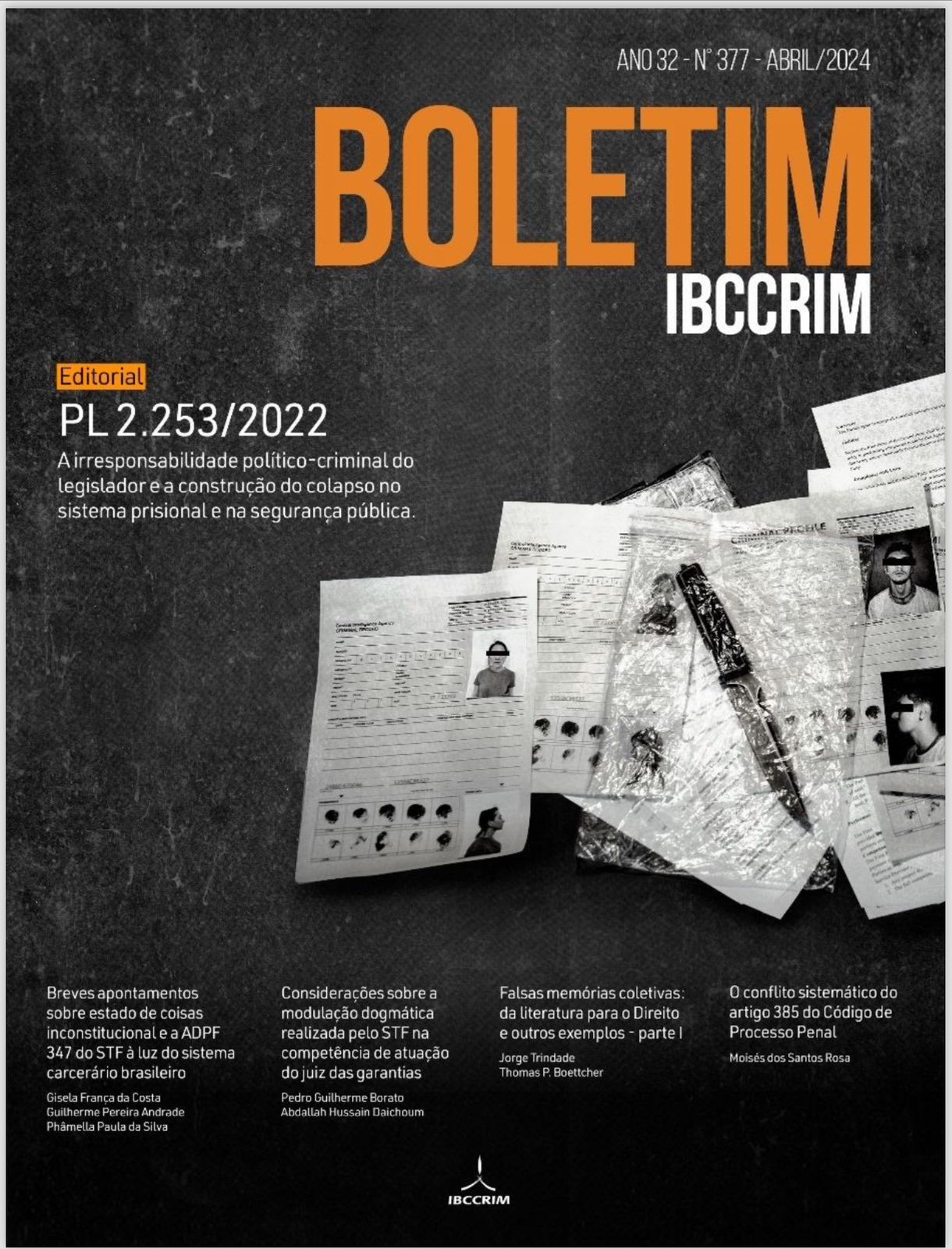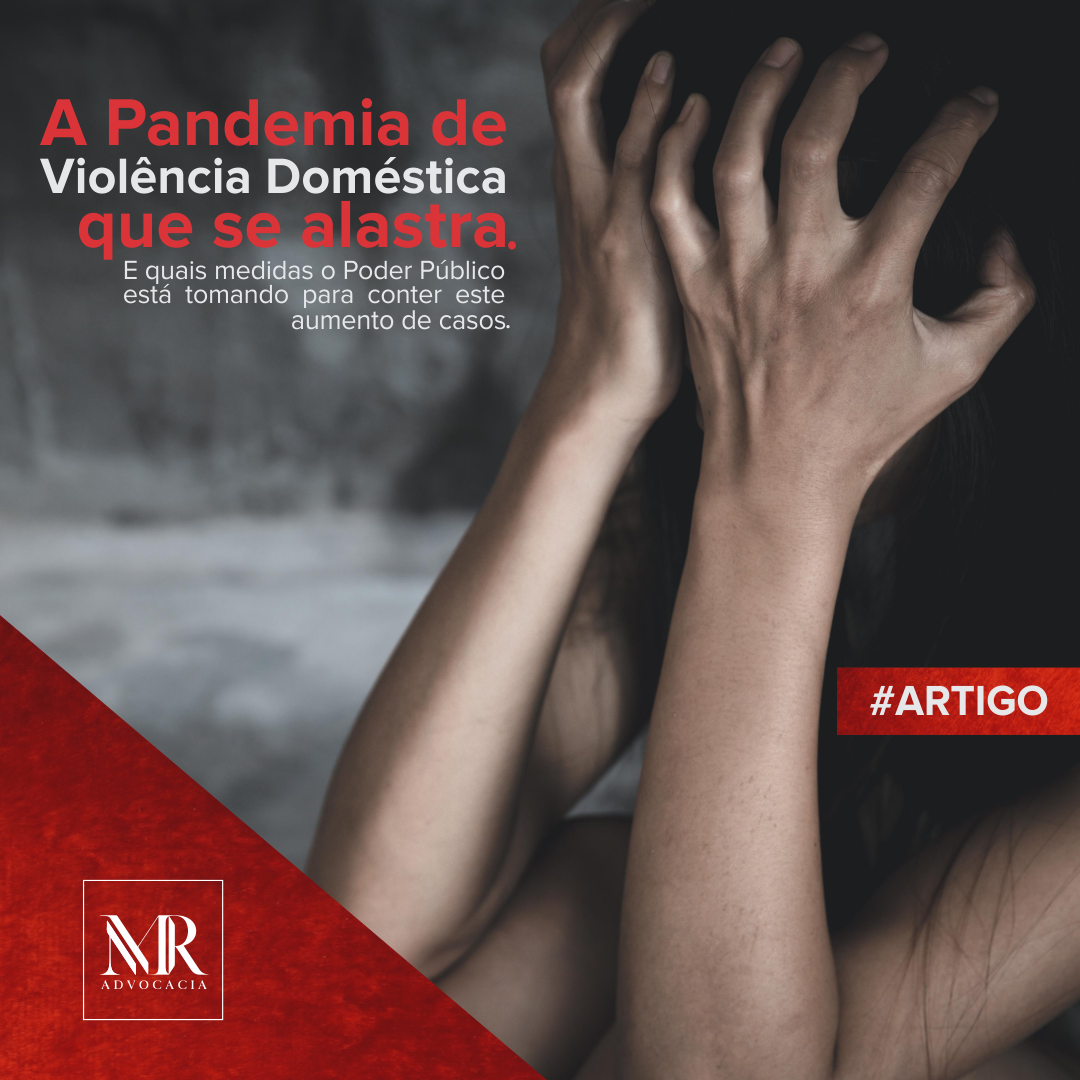A pandemia de coronavírus colocou o mundo de joelhos (com exceção do Brasil, país em que, supostamente, não passará de uma gripezinha – da qual mais de 7.000 pessoas já morreram até 04 de maio de 2020): a ameaça parece permanente e as medidas restritivas das liberdades individuais, principalmente da liberdade de circulação, são cada vez mais invasivas.
No Brasil, as restrições foram tomadas muito mais pelos governos estaduais e pelo governo distrital do que pelo governo federal: decretos emergenciais restringiram às atividades econômicas e à liberdade de associação. As medidas visam tutelar à vida e à saúde da coletividade, segundo orientações de especialistas em virologia, infectologia, epidemiologia e saúde pública.
Por força desses decretos, muitos juristas passaram a defender que a violação das medidas restritivas decretadas pelos governos estaduais e distrital preenchem o elemento normativo “determinação do poder público” do tipo legal do art. 268 do Código Penal.
A expressão “determinações do poder público” enseja algumas discussões, dentre as quais interessam-nos tanto as eventuais inconstitucionalidades, bem como o esvaziamento do tipo legal em caso de alteração das determinações do poder público (rectius: afrouxamento das medidas preventivas).
Quanto à inconstitucionalidade, o inegável caráter sanitário das medidas impostas pelos governadores pode induzir a um erro de raciocínio: o de que seria possível complementar o tipo legal do art. 268 do Código Penal com decretos. Ora, a competência legislativa em matéria penal é privativa do Congresso Nacional, nos termos do art. 22, I, da Constituição, razão pela qual não é possível criminalizar uma conduta por ato legislativo menos solene do que uma lei ordinária federal.
Portanto, em que pese a teoria das normas penais em branco heterogêneas servir para justificar a complementação dos tipos legais por atos normativos de hierarquia inferior, o texto constitucional brasileiro veda expressamente a criminalização por meio de atos normativos secundários ou por atos normativos primários dos estados, distrito federal, territórios e municípios. Dito de outro modo, a teoria das normas penais em branco heterogêneas não foi recepcionada pela Constituição.
É obvio que não podemos ignorar que muitos não comungam desse raciocínio. Pelo contrário, reputam constitucionais as normas penais em branco heterogêneas. Daí a importância de abordarmos também o esvaziamento das “determinações do poder público”.
Para compreender o esvaziamento do tipo legal é imprescindível perceber as estratégias políticas. A Organização Mundial da Saúde recomendou um conjunto de medidas, dentre as quais o isolamento social para restringir a circulação do COVID-19 nos contatos interpessoais. Diante da inércia do governo federal em criar as diretrizes gerais de uma política de saúde pública nesse sentido, os governadores dos estados e do distrito federal se organizaram para criar as diretrizes e reduzir os danos. Decretos foram criados por esses chefes do executivo na esfera estatal e distrital a partir de meados do mês de março. Ocorre que em meados do mês de abril as medidas restritivas foram retiradas, total ou parcialmente.
Esse afrouxamento, característico do neoliberalismo – tanto pela flexibilidade, quanto pela priorização da econometria em detrimento das vidas –, nos leva a questionar o fundamento dos decretos e, em última análise, da criminalização. Se a pandemia não está controlada, por que as medidas foram afrouxadas em nome de um suposto “salvamento da economia”? Essa pergunta importa na medida em que a liberação da circulação contribuirá para a difusão da pandemia e ensejará a extensão do isolamento por período superior.
Há duas respostas formalmente possíveis: o isolamento nunca foi necessário ou a circulação foi liberada por pressões políticas, mas o isolamento permanece necessário. Questionar a necessidade das medidas seria, antes de mais nada, desrespeitoso com todas as vidas dizimadas pelo vírus, por isso, e também por serem recomendadas pela Organização Mundial da Saúde, daremos a necessidade como pressuposta. Resta-nos a segunda resposta formal que encontra amparo em dados materiais acerca dos danos causados pela pandemia – danos esses contabilizados em termos de pessoas afetadas com sintomas ou mortas por força do coronavírus.
A liberação da circulação pode ser interpretada de dois modos distintos: lei penal temporária ou abolitio criminis. A lei penal temporária, prevista no art. 3º do Código Penal, destina-se a criminalizar condutas praticadas em períodos emergenciais, de modo a excepcionar, inconstitucionalmente, a regra constitucional da retroatividade da lei penal mais benéfica. Mas, ainda que a inconstitucionalidade desse artigo não seja reconhecida, não podemos ignorar que a circulação foi liberada num período em que o isolamento permanece necessário, ou seja, o esvaziamento da “determinação do poder público” configura abolitio criminis, pois a medida foi considerada desnecessária pelo poder público – o que equivale a um arrependimento dos gestores públicos.
O isolamento social é indispensável, contudo, a criminalização não soluciona a pandemia, tanto porque moradores de rua não têm habitação para se protegerem, quanto porque a inclusão dos descumpridores do isolamento social pode contribuir para a disseminação do coronavírus no interior dos presídios. Não podemos nos esquecer da lógica do quitandeiro, referida por Raúl Zaffaroni, como resposta penal ao terrorismo: poderíamos responder com a chamada lógica do quitandeiro, que não apenas é extremamente respeitável como também impecável, e com a qual nós, penalistas, temos muito o que aprender. Se uma pessoa vai a uma quitanda e pede um antibiótico, o quitandeiro lhe dirá para ir à farmácia, porque ele só vende verduras. Nós, penalistas, devemos dar este tipo de resposta saudável sempre que nos perguntam o que fazer com um conflito de saúde pública que ninguém sabe como resolver e ao qual, como falsa solução, é atribuída natureza penal.
Moisés Rosa é graduado em Direito pela Universidade Católica de Santos (1999), especialista em Direito Penal pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (2002), especialista em Direito Penal e Processo Penal pela Faculdade de Direito Prof. Damásio de Jesus (2014) e mestre em Direito (2019). Advogado e Professor no Centro Universitário UNA.
Luiz Eduardo Cani é graduado em Direito pela Fundação Universidade Regional de Blumenau (2013), especialista em Direito Penal e Criminologia pelo Instituto de Criminologia e Política Criminal (2015), mestre em Desenvolvimento Regional pela Universidade do Contestado (2019) e doutorando em Ciências Criminais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, bolsista da CAPES. Professor e advogado.